Em um mercado de consumo movido pela propaganda, os limites da atuação publicitária e os potenciais efeitos de ações antiéticas nesse setor são temas de extremo interesse social. Embora existam alguns mecanismos de controle, como o Código de Autorregulamentação Publicitária – que, mesmo não sendo lei formal, define as boas práticas do mercado –, os limites nem sempre são claros; por isso, a publicidade é alvo de constantes embates judiciais.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece alguns princípios norteadores da atividade, entre eles a necessidade de identificação da publicidade (artigo 36), a vinculação contratual (artigos 30 e 35), a inversão do ônus da prova (artigo 38), a transparência (artigo 36, parágrafo único), a correção do desvio publicitário e a lealdade (artigo 4º, VI).
O CDC também é um importante instrumento utilizado pela Justiça para a configuração da publicidade enganosa, entendida como aquela que contém informação total ou parcialmente falsa, ou que, mesmo por omissão, é capaz de induzir o consumidor em erro (artigo 37, parágrafo 1º e 3º). Assim, o conceito está intimamente ligado à falta de veracidade, que pode decorrer tanto da informação falsa quanto da omissão de dado essencial.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a configuração da publicidade enganosa, é preciso analisar o caso concreto, a fim de determinar os dados essenciais que deveriam constar da peça publicitária e que foram omitidos ou alterados; é necessário, ainda, considerar o público-alvo do anúncio, de modo a avaliar adequadamente o potencial enganoso desse tipo de comunicação.
Manipulação do universo lúdico infantil
É de 2016 o primeiro precedente que considerou abusiva a publicidade de alimentos dirigida direta ou indiretamente ao público infantil. Durante o julgamento na Segunda Turma, o ministro relator, Humberto Martins, apontou a ilegalidade de campanhas publicitárias de fundo comercial que "utilizem ou manipulem o universo lúdico infantil" (REsp 1.558.086).
O processo chegou ao STJ após a empresa Pandurata Alimentos, dona da marca Bauducco, recorrer de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou procedente ação civil pública do Ministério Público estadual e considerou como venda casada a campanha "É hora de Shrek".
Na promoção, a Bauducco condicionava a aquisição de um relógio de pulso com a imagem do ogro Shrek e de outros personagens do desenho animado à apresentação de cinco embalagens dos produtos "Gulosos", além do pagamento adicional de R$ 5,00.
Para o relator, a hipótese caracterizava publicidade duplamente abusiva: primeiro, por se tratar de anúncio ou promoção de venda de alimentos direcionada, direta ou indiretamente, às crianças. "Segundo, pela evidente 'venda casada', ilícita em negócio jurídico entre adultos e, com maior razão, em contexto de marketing que utiliza ou manipula o universo lúdico infantil (artigo 39, I, do CDC)", afirmou o magistrado.
Em outro julgamento sobre anúncios dirigidos a crianças e adolescentes, o relator, ministro Herman Benjamin, explicou que, na ótica do direito do consumidor, a publicidade é oferta e, como tal, é ato precursor da celebração de contrato de consumo – negócio jurídico cuja validade depende da existência de sujeito capaz (artigo 104, I, do Código Civil).
 "O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência reconhecendo a abusividade da publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, a crianças. Isso porque a decisão de comprar gêneros alimentícios cabe aos pais, especialmente em época de altos e preocupantes índices de obesidade infantil", declarou o relator (REsp 1.613.561).
"O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência reconhecendo a abusividade da publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, a crianças. Isso porque a decisão de comprar gêneros alimentícios cabe aos pais, especialmente em época de altos e preocupantes índices de obesidade infantil", declarou o relator (REsp 1.613.561).
Dano moral coletivo por omissão de informações
O ministro Herman Benjamin também relatou recurso no qual a Segunda Turma confirmou a condenação por dano moral coletivo imposta em ação civil pública contra concessionárias de Rondônia, em razão de anúncios de venda de veículos que não indicavam aos consumidores informações referentes ao valor de entrada, o total a prazo e os juros embutidos (REsp 1.828.620).
A ação foi proposta por uma organização não governamental após centenas de cidadãos serem "ludibriados por maquiavélicas publicidades enganosas" e depois não conseguirem honrar as compras. As instâncias de origem entenderam que as empresas deveriam ser responsabilizadas pela publicidade enganosa, porque anunciaram a venda de veículos sem a devida prestação de informações aos consumidores, induzindo-os em erro.
Segundo Herman Benjamin, o direito de não ser enganado antecede o próprio nascimento do direito do consumidor. "A oferta, publicitária ou não, deve conter não só informações verídicas, como também não ocultar ou embaralhar as essenciais. Sobre produto ou serviço oferecido, ao fornecedor é lícito dizer o que quiser, para quem quiser, quando e onde desejar, e da forma que lhe aprouver, desde que não engane, ora afirmando, ora omitindo", declarou.
No mercado de consumo, ressaltou o magistrado, juros embutidos ou disfarçados configuram uma das mais comuns, graves e nocivas modalidades de oferta enganosa, sendo passíveis de responsabilização nas esferas administrativa, civil e penal o uso de expressões do tipo "sem juros" ou a falta de indicação clara e precisa da taxa de juros e de outros encargos cobrados.
Para o relator, a informação é inadequada quando está estampada "em pé de página, com letras diminutas, na lateral, ou por ressalvas em multiplicidade de asteriscos, ou, ainda, em mensagem oral relâmpago ininteligível".
Coletividade tem o direito de não ser ludibriada
A Quarta Turma condenou uma imobiliária e seu proprietário ao pagamento de danos morais coletivos de R$ 30 mil, por negociarem terrenos em um condomínio de Betim (MG) com a falsa informação de que o loteamento estaria autorizado pelo poder público e seria possível registrar a propriedade em cartório (REsp 1.539.056).
No julgamento, o relator, ministro Luis Felipe Salomão, destacou o caráter reprovável da conduta perpetrada pelos réus "em detrimento do direito transindividual da coletividade de não ser ludibriada, exposta à oferta fraudulenta ou à publicidade enganosa ou abusiva, motivo pelo qual a condenação ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial coletivo é medida de rigor, a fim de evitar a banalização do ato reprovável e inibir a ocorrência de novas e similares lesões".
Condenação exige que informação omitida seja essencial
Contudo, o mesmo colegiado ponderou que a falta de informação sobre preço, por si só, não caracteriza propaganda enganosa por omissão. Para os ministros, a condenação, nessa hipótese, exige a comprovação de que foi sonegada informação essencial sobre a qualidade do produto ou serviço, ou sobre suas reais condições de contratação (REsp 1.705.278).
No caso em análise, o Ministério Público do Maranhão recebeu denúncias de consumidores sobre panfletos de propaganda de celulares distribuídos em uma loja sem a informação dos preços. Em primeira e segunda instâncias, a telefônica e o estabelecimento comercial onde houve a distribuição do material foram condenados a pagar indenização de R$ 10 mil por dano coletivo aos consumidores.
Para o relator no STJ, ministro Antonio Carlos Ferreira, no entanto, o CDC não exige a veiculação de todas as informações de um produto – o que seria impossível, devido à limitação de tempo e espaço nas peças publicitárias.
"Não é qualquer omissão informativa que configura o ilícito. Para a caracterização da ilegalidade, a ocultação necessita ser de uma qualidade essencial do produto, do serviço ou de suas reais condições de contratação, de forma a impedir o consentimento esclarecido do consumidor", concluiu.
Como o tribunal de segundo grau havia se limitado a afirmar, de forma genérica e abstrata, que o preço é um dado imprescindível na publicidade, o ministro determinou que a corte analisasse os pressupostos objetivos e subjetivos da informação omitida na campanha, para só então concluir pela caracterização ou não de publicidade enganosa.
Letra miúda pode configurar propaganda enganosa
No julgamento do REsp 1.599.423, a Terceira Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou que uma empresa telefônica, ao informar sobre restrições em sua promoção, utilizasse nas peças publicitárias da campanha um destaque proporcional ao anúncio das vantagens oferecidas ao consumidor, sob pena de multa.
A campanha da empresa trazia em destaque a possibilidade de o usuário falar por até 45 minutos e pagar apenas três minutos, mas informava em letras pequenas que essa vantagem só valeria para ligações locais realizadas para telefone fixo da própria operadora entre 20h e 8h do dia seguinte, de segunda a sábado, e em qualquer horário aos domingos e feriados.
O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, verificou que a conclusão do tribunal paulista foi no sentido de que tal disparidade de informações poderia efetivamente induzir o consumidor em erro, configurando propaganda enganosa.
Em seu voto, o magistrado lembrou que o STJ já considerou enganosa, capaz de induzir em erro o consumidor, a mensagem que consta em letras minúsculas nas informações contratuais. Segundo ele, o CDC não obriga os consumidores a cumprir os contratos cujos termos foram redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido (artigo 46).
Regras contratuais devem evitar falsas expectativas
Sanseverino citou julgamento realizado sob relatoria do ministro Villas Bôas Cueva, no qual o colegiado garantiu a uma consumidora o direito de receber o prêmio de R$ 300 mil da Tele Sena do Dia das Mães de 1999, em razão da falta de clareza nas regras do sorteio (REsp 1.344.967).
Na edição especial de Dia das Mães daquele ano, havia uma regra para reduzir o número de ganhadores, a qual previa a desconsideração da 17ª dezena sorteada no segundo subconjunto. A informação, não explicitada em nenhuma publicidade do título, nem sequer justificada, somente se tornava conhecida quando aberto o carnê, que era vendido lacrado. No caso analisado, a consumidora teria completado os 25 pontos necessários caso a 17ª dezena sorteada tivesse sido considerada.
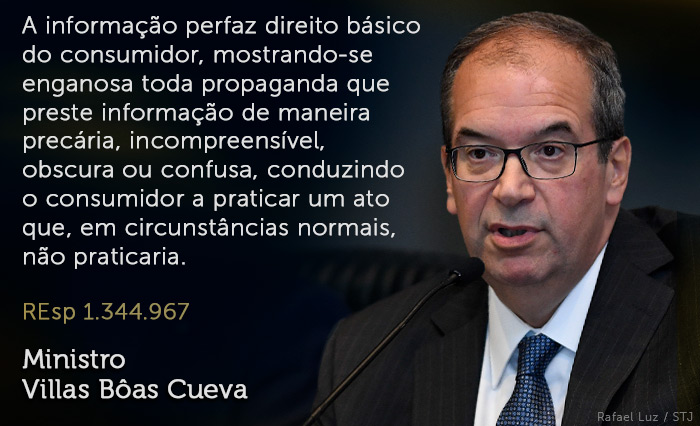 Na ocasião, Villas Bôas Cueva destacou que as regras contratuais devem ser apresentadas de modo a evitar falsas expectativas, tais como aquelas dissociadas da realidade, em especial quando o consumidor é desprovido de conhecimentos técnicos.
Na ocasião, Villas Bôas Cueva destacou que as regras contratuais devem ser apresentadas de modo a evitar falsas expectativas, tais como aquelas dissociadas da realidade, em especial quando o consumidor é desprovido de conhecimentos técnicos.
Publicidade comparativa não pode ser depreciativa
Em 2014, a Quarta Turma estabeleceu que é lícita a propaganda comparativa entre produtos alimentícios de marcas distintas e de preços próximos, desde que: a comparação tenha por objetivo principal o esclarecimento do consumidor; as informações veiculadas sejam verdadeiras, objetivas, não induzam o consumidor em erro, não depreciem o produto ou a marca, nem sejam abusivas; os produtos e as marcas comparados não sejam passíveis de confusão (REsp 1.377.911).
Com esse entendimento, o colegiado negou recurso no qual uma fabricante de iogurte pedia o restabelecimento de decisão que impôs sanções a uma concorrente em razão de campanha comparativa entre os produtos das duas.
Os ministros acompanharam o relator, ministro Luis Felipe Salomão, para quem não houve ofensa à imagem do produto objeto da comparação e, por isso, não se configurou infração ao registro de marcas nem concorrência desleal.
"Para que a propaganda comparativa viole o direito marcário do concorrente, as marcas devem ser passíveis de confusão ou a referência da marca deve estar cumulada com ato depreciativo da imagem de seu produto/serviço, acarretando a degenerescência e o consequente desvio da clientela", afirmou.
Segundo o magistrado, entender de forma diversa seria impedir a livre-iniciativa e a livre concorrência, levando restrição desmedida à atividade econômica e publicitária. "Além disso, implicaria retirar do consumidor maior acesso às informações referentes aos produtos comercializados e a poderoso instrumento decisório", completou o ministro.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):REsp 1558086REsp 1613561REsp 1828620REsp 1539056REsp 1705278REsp 1599423REsp 1344967REsp 1377911



 "O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência reconhecendo a abusividade da publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, a crianças. Isso porque a decisão de comprar gêneros alimentícios cabe aos pais, especialmente em época de altos e preocupantes índices de obesidade infantil", declarou o relator (
"O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência reconhecendo a abusividade da publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, a crianças. Isso porque a decisão de comprar gêneros alimentícios cabe aos pais, especialmente em época de altos e preocupantes índices de obesidade infantil", declarou o relator (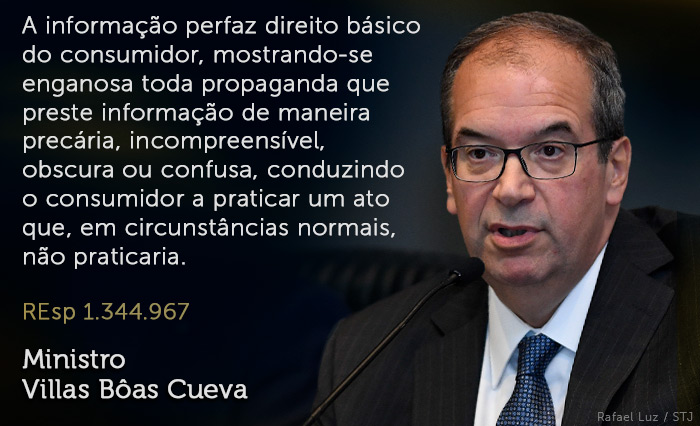 Na ocasião, Villas Bôas Cueva destacou que as regras contratuais devem ser apresentadas de modo a evitar falsas expectativas, tais como aquelas dissociadas da realidade, em especial quando o consumidor é desprovido de conhecimentos técnicos.
Na ocasião, Villas Bôas Cueva destacou que as regras contratuais devem ser apresentadas de modo a evitar falsas expectativas, tais como aquelas dissociadas da realidade, em especial quando o consumidor é desprovido de conhecimentos técnicos.